- Conceição Rubinger, os primeiros estudos sobre violência contra mulheres
Mirian Chrystus (MC): No Brasil, quando você volta do exílio, você militou na área de direitos humanos. Como foi transitar da política ampla dos direitos humanos para o feminismo?
Conceição Rubinger (CR): A questão dos direitos humanos já estava super presente pra mim. Marcos [Rubinger, seu marido] estava preso, e estávamos numa batalha. Eu participava de tudo! Eu fiz denúncia de tortura que ele o Simon Schwartzman1 sofreram lá dentro – discriminados como porcos judeus. Eu fiz uma representação internacional.
(…) Só que acontece o seguinte: quando uma pessoa se posiciona assim, buscando uma transformação da sociedade, de todos, eu não poderia nunca esquecer a mim mesma, como mulher. Eu sabia de coisas quando era pequena, de mulheres que apanhavam dos maridos – desde pequena ficava brava. Então pra mim isso foi assim uma beleza. Você nem imagina, depois de viver essas coisas todas, eu entrar no movimento feminista. Nossa, aquilo abriu um horizonte – fiquei feliz. Pra mim era uma alegria fazer aquelas coisas todas.
MC): Como se dá sua contribuição ao Centro de Defesa dos Direitos da Mulher?
(CR): (…) Em Belo Horizonte, a casa da rua São Paulo não entrou no apoio da [Fundação] Ford. Éramos nós mesmas que cotizávamos e pagávamos o aluguel. Mas a Casa do Jornalista abriu seu espaço para nós e descortinou pra gente muita coisa. Na minha experiência, primeiro foi na [Faculdade de] Direito, depois pra Casa do Jornalista e depois pra rua São Paulo. Eu participei na Faculdade de Direito de duas ou três reuniões.
Nesse momento a Celina [Albano] que arrumou uma pessoa, não sei se era psicanalista, era uma pessoa que ela conhecia muito, então ele fazia um trabalho conosco. Esse foi o
primeiro encontro – foi um trabalho assim. Depois ele ia chamando uma por uma e fazia questões pra ver como a pessoa tinha se sentido depois do relaxamento, o que tinha pensado. E cada uma falava sua experiência. Essa foi a primeira vez. Eu não participei na Casa dos Jornalistas, eu era fresquinha no movimento – mas eu conhecia as pessoas na UFMG, onde eu trabalhava. A Celina era minha contemporânea.
O estatuto foi redigido na Casa dos Jornalistas, o SOS Mulher começou a atender na Casa do Jornalista. E o SOS fazia parte do grupo da violência. Depois a pesquisa foi tomando muito nosso tempo. O SOS já foi ficando um pouco mais por conta do grupo de advogados e estudantes de Direito. Por isso que, na etapa de levantamento as informações sobre o processo vivido para se fazer uma denúncia, pra abrir um inquérito, a gente viu que a mulher passava por uma segunda violência.
(MC): Ali começa a reivindicação pra criação das delegacias das mulheres?
(CR): Sim, nós já estávamos pensando nisso. Só em São Paulo as feministas não encontraram nenhuma resistência. Nós só fomos ter a Delegacia da Mulher no segundo semestre de 1983 (seis meses depois das paulistas). No início nossa delegacia funcionou na Lagoinha, onde era a Delegacia de Costumes. A delegada Elaine Matozinhos foi pra lá, e ela fez um trabalho muito bom.
(…) Nossa pesquisa buscou entender como é que eles [os funcionários da delegacia] lidavam com todo esse processo, qual era a percepção que eles tinham da problemática da mulher – os agentes de segurança, dentro das delegacias. Nós começamos a ler uma pesquisa feita pelo [Antônio Luiz] Paixão, que era professor da FAFICH, sobre a questão da criminalidade e violência. Ali ele narra o que nós vamos constatar depois, na versão feminina. Ela é transformada em ré lá dentro. Um deboche. Por isso que a Secretaria de Estado de Segurança Pública não nos permitiu entrar nessas delegacias para fazer os levantamentos.
Tem uma caminhada interessante, porque o CEM (Conselho Estadual da Mulher), pede ao Centro de Defesa dos Direitos da Mulher a indicação de uma pessoa que estivesse trabalhando na área da violência pra fazer parte da comissão. Inicialmente eu fui a indicada pela Bila [Sorj] que era a presidente do CDM na época. Fui pra primeira reunião e lá estava a uma integrante falando da Secretaria de Segurança Pública – dizia que não ia nos deixar fazer a coleta de dados e a também a observação sociológica porque a Dra Merli já fazia isso. Quando vimos, ela simplesmente colhia os dados da polícia. Nessa primeira reunião do CEM eles propuseram então que de todos os grupos ali, o CDM fosse escolhido por esse grupo para realizar esse trabalho, porque a gente já tinha até projeto elaborado. A Dra Merli viu que a criminalidade geral não ia nunca atender o que nós precisávamos. Já que a gente não podia nem entrar no espaço físico das Delegacias – ou pedir que a gente tivesse uma sala, colocasse lá o material, os dados; não aceitaram. Felizmente nós pegamos um pouquinho dos dados antes, ainda na Delegacia de Costumes e, pouco tempo depois, com a Dra. Elaine Matozinhos… Aí tivemos acesso. Finalmente as portas se abriram, tivemos acesso aos dados, fizemos entrevistas. Foi possível acompanhar a formação dos inquéritos, como eles lidavam. Raramente o autor [do delito] era procurado pelos policiais. Inclusive conosco falaram assim: “Você não sabe o que é. Você é casada? Se não foi, você não sabe. Vai casar pra você ver. Nenhum homem respeita a mulher!”
Inclusive no início [da implantação das] Delegacias de Mulheres mantiveram as mesmas pessoas – os escrivães, as mesmas pessoas que montavam os inquéritos antes. E nós falamos com Elaine Matozinhos: “Não é possível manter isso. Ainda não nasceu a delegacia da mulher, porque ainda são os mesmos costumes”. Aí ela começou a mudar todo o funcionamento e trouxe outras pessoas de outras delegacias – ela mudou o grupo. Mas a gente ainda via que o movimento de mulheres, o CDM ainda tinha papel na formação dessas pessoas, porque a realidade era distorcida. A mulher chegava lá, a maioria jovens que tinham sido estupradas, eram tratadas de uma forma totalmente desrespeitosa. E isso tudo está registrado [no relatório da pesquisa].
(MC): Quais foram as principais contribuições dessa pesquisa? Parece que foi uma das primeiras do Brasil…
(CR): A primeira coisa foi quebrar o silêncio a respeito desse assunto – violência praticada contra mulheres. E, finalmente, a gente ter dados para confirmar a fala que a a gente estava veiculando por vários meios – entrevistas, escrevendo artigos, fazendo pesquisa, participando de eventos. Nossa palavra tinha respaldo nesse levantamento, nesse trabalho.
(MC): Fale um pouco sobre a participação da Fundação Ford.
(CR): Eu acho que foi importante o encontro com a Patrícia [representante da Fundação Ford presente ao seminário] lá no Peru – ficamos no mesmo grupo todo o tempo. Foram três ou quatro dias e tivemos uma participação muito forte no grupo. Tive acesso a conversas, troca de ideias… Fiquei sabendo como era o funcionamento da Fundação Ford. E, como eu trabalhava em um setor desses na UFMG, de elaboração de projetos e captação de recursos, então a antena já ligou. Daí apresentamos os projetos, não voltou nenhum.
No relatório final tem a parte de todo o projeto e tem a parte financeira. Nós não tínhamos nem uma cadeira pra sentar, nem nada. Esta organização internacional financiou o aluguel da sala que tínhamos na rua dos Goitacazes, o pequeno mobiliário necessário para os trabalhos, arquivos. Assim contratamos secretaria, compramos máquina de escrever. Ou seja, pagou todo esse pessoal, até os estudantes que iam como auxiliares na coleta de dados, cuja participação foi colocada pra Ford como importante – que tivesse pelo menos dois ou três estagiários. Eles também têm esses critérios na linha de financiamento: incentivo para o desenvolvimento e formação de recursos humanos na pesquisa.
(MC): Passados tantos anos, 40 anos disso tudo. Como você vê a questão da violência da mulher hoje?
(CR): Mesmo tendo as delegacias e outros órgãos que dão apoio, não é suficiente. O que sustenta tudo isso é o movimento de mulheres. Esse é o fator que dá o calor da coisa. Não foi pouco o que foi criado nesse tempo. O CDM fecha as portas, entregamos a casa, a gente termina a pesquisa, entrega a sala e as coisas começam a esmorecer. Precisa disso!
(…) Muito interessante, porque agora, no momento em que eu estava decidida a pegar todas as coisas e doar e falar assim: “encerrei”. Agora estou toda entusiasmada de novo. O trabalho não acabou. Tem muito por fazer. Eu acho que esse material todo, por exemplo, o último projeto foi robusto. Ele trouxe muita coisa, muita reflexão. Então ficou inédito o resultado desses dois projetos de pesquisa. Só quem tem isso é a Fundação Ford e a gente. Isso precisa chegar, a gente tem que pegar esses dados, e nós também não esperarmos as pessoas procurarem, fazer algumas exposições, encontros, bate-papos, reunir todos os grupos. Fazer uso dessas coisas. Eu acho que precisa isso entrar num website, mas também ser publicado. Os dados estão à disposição.
(MC): Olhando pra trás você se sente orgulhosa da sua contribuição?
(CR): Eu não sei, Mirian, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz de ter participado (…). (…) a minha consciência está contente da gente ter dado uma quebra nesse silêncio na questão da mulher e termos tido a coragem de ir pras ruas.
1 Simon Schwartzman (1939-). Simon é pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro. Estudou sociologia, ciência política e administração pública na Universidade Federal de Minas Gerais (1961); tem um mestrado em sociologia pela Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), Santiago do Chile (1963); e Ph.D. em ciência política pela Universidade da Califórnia, Berkeley (1973). Foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido afastado pelo golpe militar de 1964 e reintegrado em 2000, quando se aposentou.
f
REALIZAÇÃO
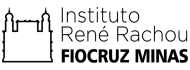
PARCERIA

APOIO FINANCEIRO
Emenda Parlamentar, mandato da deputada federal Áurea Carolina (PSOL)
APOIO INSTITUCIONAL
Fundação Oswaldo Cruz



