

CELINA ALBANO
Como tornar o moderno em ato político
A socióloga Celina Albano foi, por muito tempo, o rosto público do feminismo mineiro. Cientista política com doutorado na Manchester University (UK), além da carreira acadêmica na UFMG, Albano distinguiu-se no feminismo mineiro, presidindo o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher em 1980, em Belo Horizonte. Dali seguiu como consultora para o Conselho Nacional da Mulher (1985), com participação marcante na construção da abordagem feminista nas leis (defendidas por mulheres líderes) aprovadas na Constituinte de 1988. Também é reconhecida por sua participação política na criação do PT em Minas. Nessa entrevista, Celina Albano nos empresta sua lucidez e recordações para relatar o contexto e os detalhes dessa passagem essencial pela segunda onda do feminismo que se constituiu nas Minas Gerais dos anos 80
Carmem Rodrigues (CR): Vamos iniciar a conversa, profa. Celina Albano, perguntando sobre a sua experiência na Europa. De que forma isso te influenciou e o que aprendeu sobre o feminismo europeu, em meados dos anos 70, período de seu doutorado na Manchester (UK)?
Celina Albano (CA): Olha, antes de entrar no tema, quero comentar o seguinte: não sei por que razão, mas as pessoas sempre me viam como uma mulher que batalhava contra a situação [indesejável] das mulheres em geral – desde a época de colégio. Depois, foi o mesmo na faculdade e também quando comecei dar aulas, sabe? Eu sempre era aquela que ia falar com os outros, tinha que mudar a situação. E me recordo como, uma vez, atuei para mudar a situação no Departamento de Ciências Política [da UFMG]: descobri que os homens ganhavam mais que nós bolsistas mulheres. Os homens solteiros tinham uma bolsa melhor do que a nossa. Isso já acontecia com os casados – com compromissos de família, tinham que ganhar mesmo um pouco mais, a gente reconhecia isto. O mais engraçado é que tinha um padre nesse grupo dos solteiros – ele que ganhava mais do que a gente também. Daí cheguei lá no diretor e falei: “Mas por quê?” Ele respondeu: “Não, porque ele [o padre] tem muitos gastos.” Aí eu falei: “Olha, tenho certeza que eu gasto mais em cerveja e vodka do que ele, entendeu? Então acho bom aumentar a nossa cota!”
E aumentamos a cota, à custa da comparação com o padre, um grande amigo meu, o Jesuíta (1). Eu sempre tive esse jeito de ser… As pessoas me viam meio que… como aquela pessoa que reivindicava as coisas e tal e, muitas vezes, tinha a ver com nossa própria condição feminina.
Aí eu fui pra Europa e caí na Universidade de Manchester (UK). Você pensa assim: a gente é muito fruto daquelas pessoas com quem você anda, com quem convive. E tive a sorte em ter algumas amigas que pensavam como eu: que a situação não podia ser assim, nós tínhamos que tentar participar mais das decisões. Tinha, por exemplo, a Claire Bacha (2) – era americana que foi casada com Edmar Bacha (3) e era muito militante, sabe? Assim, pelo fato de ela estar sempre em contato com a militância nos Estados Unidos (eles moraram em Harvard), e nós convivermos muito, estava sempre recebendo informações novas e a influência dela. Depois foi a convivência com a Bila Sorj (4), que também estava comigo lá [no doutorado em Sociologia da Manchester University]. Então nós três conversávamos, discutíamos e tudo. E nós começamos a participar no DA [Diretório Acadêmico] da Universidade de Manchester – tinha sempre conferências de pessoas interessantes e a gente ia. Eu me lembro de ter assistido a palestra de uma das ídolas inglesas da época. Era a Sheila Rowbotham (5), uma das que encabeçavam o movimento de mulheres e tudo. E a gente lia muito, autoras como Betty Friedan (6) – a gente conversava e lia demais sobre isso. Nessa época aqui no Brasil ainda não tinha tanta literatura acessível como tinha lá. Tinha muito panfleto, muita publicação menos luxuosa, mais de tipo popular que a gente comprava nas bancas.
Lá em Manchester nós já tínhamos entrado em contato com um grupo que mantinha uma casa pra mulheres espancadas. Então foi assim aquele choque pra gente e tal – tinha uma casa na qual as mulheres se refugiavam. E a gente ia a algumas reuniões que aconteciam nesses abrigos de mulheres – elas nos chamavam porque tínhamos uma amiga que trabalhava numa dessas casas. Estávamos sempre a Claire Bacha, eu e a Bila Sorj – nós três procurando entender o mundo feminino e a opressão sobre as mulheres.
Aí quando cheguei aqui, em 1980, fui logo comunicada do movimento das mulheres que dona Helena Greco (7) tinha organizado, o movimento da anistia (8). Então entrei em contato com elas, mas senti que ali tinha uma abordagem muito política. Era uma questão da mulher, mas vista ainda sob um ângulo que não era o feminismo que eu tinha começado a discutir – esse feminismo que não passava por partidos, nem por células partidárias, nem nada. Era uma coisa mais ampla, mais geral. Por isso eu não me engajei naquele grupo. (…) E aí eu falei: “Gente, olha, eu estou vindo da Inglaterra (é muito chato ficar fazendo comparações), mas lá tem coisas muito interessantes como pequenos grupos ou então eventos onde você organiza um dia inteiro de palestras com discussões”. Aí o pessoal dizia: “Ah, Celina, aqui não dá porque as mulheres não têm lugar onde guardar os filhos, deixar os filhos”. E eu propunha: “Não! Vamos pedir os maridos, os companheiros pra organizar as atividades pras crianças”. Disseram: “Ai que orgulho, Celina, só mesmo você vindo da Inglaterra que pensa uma coisa dessas”.
E olha, foi um sucesso! Ainda me lembro, que assim foi um orgulho pra mim porque a dona Marisa (9), a mulher do Lula (10), ela estava aqui. Nós fomos para aquele colégio de freiras no Eldorado e fizemos o dia inteiro de palestras, de atividades e a dona Marisa uma hora me chamou, falou: “Eu tô olhando isso aqui. Eu nunca vou conseguir isso em São Bernardo”. E respondi: “Acho difícil também, mas tenta!” E me lembro até hoje aquela figura bonita, assim risonha.
Carmem Rodrigues (CR): Então também foi em Manchester (UK) que você foi conhecer as primeiras políticas públicas voltadas para a mulher?
(CA): Sim, com certeza. Eram políticas municipais, as chamadas local policies, não era política nacional. Sempre era a administração municipal que organizava, junto com mulheres e tal. Tinha problemas, p. ex.: eram casas muito pobres para o padrão inglês; aqui seriam consideradas ótimas. Mas era difícil, tinha muita violência, não é? Quando cheguei de volta a Belo Horizonte, contei essa experiência. E vou te dizer a verdade: muita gente do PT foi contra eu dar esse tipo de exemplo dos abrigos de mulheres espancadas, das políticas públicas inglesas. Eles diziam que a violência era uma questão que incidia muito sobre a classe operária. E achavam que isso iria chamar atenção de forma negativa se eu ficasse falando de violência contra a mulher [cometida por operários]. Eu me lembro de ter respondido: “Não, eu não acredito nisso, não aceito. Vou continuar falando do mesmo jeito porque acho que é uma situação que abrange as diferentes classes”. E aí em 1980 que teve a coincidência, (…) mostrando que a violência não era só de classe operária, (…) e aconteceram aqueles dois assassinatos (11).
Então, certa noite… aí que começa toda a história da preparação do ato do QuemAmaNãoMata (QANM). Uma noite a Miriam Chrystus (12) me liga em casa e pergunta se eu poderia ir à Rede Globo [dar entrevista].
Fui pra faculdade dar aula [Fafich-Ufmg], voltei pra casa, mudei de roupa e fui pra entrevista. (…) E na verdade eu falei muito porque estava indignada, entendeu? Porque era algo assim: eu tinha uma vida afetiva tão boa, tão tranquila e pensava naquelas mulheres que, por quererem ser livres, tranquilas e viverem mais intensamente as oportunidades, elas tinham sido mortas. Isso me deu uma revolta muito grande. (…) Quando cheguei em casa [terminada a entrevista ao vivo], o que aconteceu? Uma coisa que nem tinha imaginado: o telefone não parava de tocar! E eram pessoas dos mais diferentes grupos, além das pessoas da faculdade. Todo mundo dizia: “Celina que legal, que bom que você falou, é isso mesmo!”.
À tarde eu ficava na universidade pra preparar os trabalhos, ler, estudar e avisei minhas colegas que estava indo pra lá. Eu morava a três quarteirões dali [período de funcionamento da Fafich na rua Carangola, bairro Santo Antônio]. Aí cheguei lá e todas vieram propor: “Nós vamos também nesse ato. Temos que organizar uma reunião hoje à noite, pelo que você falou. Nós temos que reagir mesmo, não podemos aceitar essa situação”. (…) Você acredita que às 18 horas já tinha umas 20 mulheres esperando a reunião?! Assim a sala lotou – era uma sala de 40 lugares e tinha gente em pé – só mulher e todo mundo falando, aquela coisa! A Miriam [Chystus] ficou coordenando a mesa. Eu expliquei pra Miriam: “Olha está acontecendo isso, você vem pra cá”. E Miriam assumiu a coordenação dos trabalhos, junto com mais umas pessoas. Foi assim que fizemos essa reunião; a partir daí começamos: “Vamos reunir, mas não em lugar fechado? Vamos sair pra rua?” Cada uma falava alguma coisa, então saiu um comitê (do qual eu participava também) para organizar um evento. E a gente pensou, como nós todas tínhamos sido militantes de passeatas estudantis, pensamos: “Tem que ser na Igreja de São José!” Porque na época das nossas passeatas sempre tinha a Igreja São José no percurso. Ou pra gente se esconder ou pra gente ficar lá gritando.
Eu acho que o grande sucesso nosso da mobilização (porque foi um sucesso)… Pense você: encher a escadaria da Igreja São José com 500 pessoas em 1980, tá? Mas foi uma coisa muito interessante porque, nessa organização, os partidos não entraram. Entraram representantes, por exemplo, tinha a Jô, tinha a Luzia, cada uma representando seus movimentos, e a dona Helena Greco. Mas ninguém falava “eu sou o partido”. Sou isso aqui, somos nós mulheres aqui. Foi muito legal isso, entendeu? Deu uma conotação mais apartidária, mais suprapartidária.
(…) “Não é só aqui em Minas não. Mata-se [mulheres] é no Brasil inteiro”. E o caso é o seguinte: as muitas Marias, Antônias, Raimundas, não aparecem no jornal. Mas os casos da Eloísa Ballesteros e da Maria Regina eram outra situação (13). E também já tinha o antecedente da Ângela Diniz (14), da Jô Lobato (15). Então, claro, tinha um pano de fundo muito pesado, dramático também.
E aí comecei a ser chamada pro Rio [de Janeiro], pra São Paulo, pra Brasília, participar de debates. Aqui eu participei de debates fortes com advogados. E aí, nesse meio tempo, começamos a pensar em nos organizar institucionalmente. Até porque não poderíamos ser aquele grupo que participa e evapora. Aí que surgiu a ideia do Centro [Centro de Defesa dos Direitos da Mulher]. Nessa situação, a ideia era consolidar algo que tivesse um nome, que nos apresentasse pra sociedade brasileira como um todo, como um grupo de mulheres que queriam trazer a questão da violência. E isso causou um estranhamento também na esquerda mais radical. Porque aquilo que eu falei: eles achavam que ao falar de violência você chamava atenção pra classe operária. Que aparecia como o centro da violência – parecia que toda hora tinha marido espancando mulher, entendeu? E mesmo que tivesse, nós tivemos que falar, entendeu? E isso causou um problema um pouco lá dentro do PT. (…) Porque, naquela época, o feminismo no Brasil não tinha essa característica de se voltar mais pra questões que diziam da intimidade dos casais ou da sexualidade da mulher. Eram discussões em geral mais voltadas pra os direitos trabalhistas, era trabalho igual salário igual. Então a violência cortava um pouco essa linha e chamava atenção para esse aspecto que entrava na subjetividade das pessoas.
Aí foi muito interessante que a FAFICH virou assim o centro do debate feminista em Belo Horizonte. A gente começou a fazer grupos de reflexão, discutir essas coisas mais específicas mesmo – o específico da questão feminina, da opressão, do patriarcalismo. (…) Então a gente começou a trocar ideias e tal e saiu a ideia das casas, as casas das mulheres espancadas, as Battered Wifes – elas dormiam, ficavam lá com as crianças. Aqui a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha nem creche! Como que ia fazer casa pra mulheres espancadas, não é? Ninguém ia pegar essa causa. Aí nós começamos, via São Paulo, a discutir essa questão de dar o apoio emergencial e jurídico, criar o SOS-Mulher. E nós tínhamos grupos, no princípio… A Dinorah deve saber melhor do que eu (ela deve estar com tudo anotadinho). A gente dividia em grupos pra dar atendimento às mulheres, ouvir as mulheres e aí entendemos cada vez mais que era necessário mesmo um ponto onde concentrar essa questão. Até pra evitar muitos problemas com as outras que não queriam se envolver nesses atendimentos, porque era um trabalho difícil. Eu me lembro que chegava em casa arrasada – tinha dia que eu chorava… Comecei a mentir minha idade, porque as mulheres eram tão acabadas, tão assim sofridas, então eu parecia sempre mais nova do que elas! Mas, na verdade era o contrário, eu era bem mais velha do que elas. Então a gente viu estratégias e fomos levando. Depois foi quando a Fundação Ford chegou.
No início o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (CDM) funcionou numa sala na Faculdade de Direito. Era chamada de Escola Direito [da UFMG] e tem um prédio com hall de entrada com aquela aparência formal, com elevador, uma estrutura de universidade. Notamos que isso estava inibindo as mulheres: elas nos telefonavam e falavam as coisas no telefone, mas não nos procuravam mais. Então aí houve a discussão, todo mundo concordou e tal, Conceição Rubinger (16) a Karin Smigay (17) e várias outras – a Júlia, a Silvaninha Coser, a Beth Almeida (18), a Fernanda Collás Arantes (19). Nossa Fernanda era fantástica, elas eram advogadas. Nós tivemos advogados homens, estudantes do último ano da Direito que participaram do CDM como estagiários. Um deles é famoso porque é Promotor do Ministério Público; o outro é um advogado de família, o Rodrigo da Cunha Pereira (20); e o Antônio que tocava na Orquestra Sinfônica também. Então era um grupo muito unido, saíamos juntos, discutíamos.
Então, depois de um ano e meio, nós saímos da Faculdade de Direito, por volta de 1982 ou 1983. Aí entrou o projeto da Bila Sorj, da Paula Monteiro e Conceição Rubinger, que montaram o projeto para Fundação Ford. E aí nós recebemos financiamento – por isso conseguimos alugar uma casa na rua São Paulo, um lugar bem central – era uma casa de um pavimento, muito tranquilo. No SOS-Mulher o fundamental era o atendimento, pois não existia nada em Minas ou no Brasil que funcionasse assim naquele momento. Podíamos chamar as mulheres pra discussões, criar grupos de reflexão. Tudo isso por termos, a partir daí, um espaço multifuncional em termos de atividades e tudo. Foi muito legal. Naquela época fui convidada para auxiliar na Constituinte de 1988.
O motivo principal de todo o trabalho que fizemos era bem voltado para as questões específicas da mulher. Apesar de a gente saber toda a importância da questão de resistência à ditadura… a repercussão do Centro é muito interessante, sabe? E era um trabalho que exigia uma grande dedicação, por exemplo, mais dedicação do que a certa altura eu estava disposta a dar, entendeu? E eu tinha vários outros interesses e tal, e me senti um pouco assim sobrecarregada… Ao mesmo tempo, as pessoas achavam que eu queria aparecer e fui me afastando. Foi nessa época que me convidaram pra ir pra Brasília. Isso foi uma vivência marcante…
(CR): Como surgiu a Constituinte na sua experiência?
(CA): Isso foi em 1987, na preparação da Constituinte. Eu fui convidada pra ser diretora técnica do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) (21). Assumi o trabalho de diretora técnica e, nossa, foi fantástico! Era uma experiência muito interessante, éramos atacadas… Aí a briga aumentou, aumentou o volume, a densidade e tal. Mas o Conselho foi muito bem estruturado. E acho que isso se deve muito à luta de Ruth Escobar (22). Ela foi pra frente mesmo e lutou e como o Sarney (23) gostava muito dela, respeitava muito, ela tinha um canal direto na Presidência da República. O conselho era um órgão de Estado, não era um órgão de governo. Isso nós fazemos questão de frisar porque, de uma certa forma, diminuía o impacto das brigas partidárias. Então nós éramos um órgão de Estado e por isso trabalhávamos junto ao Ministério da Justiça – ao mesmo tempo, éramos independentes dele. Na época era o Brossard (24) o ministro.
E tinha um grupo de conselheiras também, assim, muito bárbaro. Tinha a Ruth Cardoso (25), a Ruth Escobar, a Marina Colassanti (26)… Com várias representantes de regiões do Brasil, assim todos os partidos estavam lá, misturados. E a gente viajava – pra todos os lugares que nos chamava a gente ia! Fizemos grandes eventos em Brasília.
Elizabeth Fleury (EF): E como surgiu o lobby do batom?
(CA): Aí o que aconteceu foi o seguinte: claro que quanto mais a gente trabalhava, mais a gente se destacava, chamava atenção. No terceiro ano de funcionamento do Conselho eu fui a sua diretora. Certo? Eu fui em 1987. Eu cheguei em Brasília em fevereiro de 1987. Nunca tinha saído da universidade, nem sabia o que era Serviço Público. (…) Aí eu fui pra lá e nós trabalhávamos muito junto aos movimentos, foi uma experiência interessante. Por exemplo, vamos discutir emendas para o capítulo dos direitos trabalhistas: aí gente chamava os sindicatos, o movimento social. A gente tinha recursos financeiros e era incrível! Como realmente o dinheiro fazia a diferença, em boas mãos é claro… Então a gente trazia as pessoas, pagava as passagens, os movimentos também faziam vaquinha e era uma animação incrível. Nós ficávamos no quinto andar no Ministério da Justiça… era um entra e sai de mulher e aquelas conversas. As conselheiras, que eram muitas – o grupo reunia pessoas como a Branca (27), a Jaqueline (28) que ajudavam a dar apoio na parte jurídica. Nós tínhamos várias conselheiras, na área de comunicação entravam muito a Marina Colassanti, Ruth Cardoso, sem dúvida. A gente chamava e elas vinham e tal.
Num belo dia… A gente sempre dizia que segunda-feira em Brasília era um dia de terror porque fica sábado e domingo sem acontecer nada. Daí tudo parece que começa a acontecer, todas as confusões começam na segunda-feira. Eu dava aula aqui na UFMG e sempre domingo à noite eu voltava pra Brasília. Retornava pra Minas na quinta à noite ou sexta de manhã e voava de novo para o Distrito Federal no domingo. Já ia direto de mala e tudo lá pro Ministério pra não perder nada. Estava lá todo mundo assim: “Celina, você não sabe o que aconteceu!” Um jornal, na época eu acho que era o jornal mais importante do Brasília, o Correio Brasiliense, fez uma matéria falando que existia um novo lobby no congresso, o lobby do batom.
No primeiro momento nós todas tivemos medo da repercussão da notícia, achando que iam nos criticar – primeiro era o sutiã, agora era o batom. Mas tudo era resolvido no coletivo, isso era muito legal no Conselho. Nós ficamos numa sala discutindo e tal e pensando que tínhamos que resolver isso rápido. A coisa não podia ficar sem resposta nossa – nós temos que dar uma resposta que nos dê crédito. Aí, não sei, no meio da confusão, alguém falou… Eu me lembro que éramos eu, a Schumann, a Maria Luísa Heilbourn (29), uma antropóloga do Rio… Até que alguém falou: “Lobby do batom, isso mesmo, vamos criar o lobby do batom!”.
No início não foi um consenso firme até por parte das conselheiras. O medo de ficarmos ridicularizadas – mas éramos muito firmes, nós éramos bem ousadinhas. Vamos em frente. Vai dar certo. Deu tão certo. E o que nós fizemos? Na mesma hora, tinha um cartunista de Brasília importantíssimo, era o mais famoso da época, que agora eu esqueci o nome, nós o chamamos e dissemos: “Nós precisamos de uma marca, nós temos que sair com uma marca”. E ele fez uma marca fantástica! Um botton onde ele pegava a forma, as linhas do Congresso Nacional e transformavam numa boca rosa choque. Lindo, lindo. E fizemos o botton. E aí quando tinha alguma coisa muito importante em votação no Congresso, ou reunião do conselho, todo mês as conselheiras vinham, conversavam, discutiam as linhas – isso aí foi dando a ideia do que era política pública, entendeu? Uma política de Estado que é diferente de política de governo entendeu? Aí, eu não me esqueço: os bottons ficaram prontos, nós pusemos e entramos no Congresso. Ah! Fomos aplaudidíssimas. Foi assim um sucesso de comunicação como nós nunca pensamos. Foi superlegal. Olha foi um ano que eu digo assim, foi um dos anos mais intensos da minha vida.
(EF): E as conquistas obtidas na Constituinte?
(CA): Foram fantásticas porque nós chamamos especialistas pra todas as áreas. A divisão da carta era em capítulos, setores. E, ao mesmo tempo, em todas as áreas (seja na saúde, nos direitos trabalhistas, seja na área de creche, de direito de família), sempre a gente tinha uma publicação. Nós publicamos muito, mas muito mesmo. E as publicações eram todas bem feitas e tal. Fizemos uma publicação sobre mulher rural, sabe? Olha, Brasília era assim, tinha épocas em que você via o Congresso Federal invadido por mulheres. A única situação que a gente teve um embate (e foi muito pesado) foi com a questão do aborto. Porque aí entrou a igreja católica, eu me lembro de Dom Luciano (30) fazendo aqueles discursos contra, outros famosos e tal. E eu aí vou contar um caso que é muito interessante também – a gente tinha os deputados, os senadores, que a gente procurava pra eles darem o aval nas nossas emendas. E aí a gente passava por um crivo de advogadas pra ver se estava tudo certo e tal. Então, na questão do aborto, nós fomos conversar com o Senador Fernando Henrique (31) – ele não vai se lembrar desse caso que é uma gota d’água, não é? Aí chegamos lá e me lembro que fui eu e a Madalena, do setor de saúde – havia as coordenadoras das áreas e eu era diretora geral. Aí chegamos lá no senador e tal, vamos ver se o senhor pode nos validar, nos encaminhar. Aí ele disse: “Olha, eu sou a última pessoa, porque eu sou considerado a favor do aborto. Já fui acusado, já fui acusado de ateu, eu sou uma pessoa muito visada que não vai agregar, vai até dividir o apoio de vocês. Mas você é de Minas?” Ele perguntou pra mim. “Pois é, tem uma pessoa em Minas que seria ótima.”
– “Quem? Célio de Castro (32)?” Ele na época era deputado, e eu já tinha conversado isso com ele e também disse que não podia, que era muito visado, tinha que ser alguém assim, um exemplo. FHC explicou: “Em Minas tem um deputado ótimo, fantástico, pai de família, tem filha, a mulher é médica, Pimenta da Veiga (33)!” Olha só, nós fomos atrás do Pimenta da Veiga. Porque alguém tinha que encaminhar a proposição; ele até encaminhou, mas perdemos, é claro.
Então foi um ano de muito trabalho e de grandes conquistas. A lei do aborto que não tinha condições de ser aprovada, a gente fez mais pra marcar uma posição, não é? Mas na área da violência, questão de estupro, da área da saúde, a questão das creches que foi muito combatida, a licença maternidade, a educação, nós entramos muito no Congresso com a questão do gênero. Contamos muito com o apoio das conselheiras.
O movimento feminista aqui tomou uma outra característica mais voltada para questões específicas – sexualidade, violência doméstica, coisas que não eram tão faladas, tanto quanto hoje. E eu acreditava que as coisas iriam melhorar… Tenho que dizer que fiquei desapontada, depois de um esforço tamanho que a gente fez e tudo… Quando você vê hoje, a situação da mulher, o feminicídio, uma coisa tão brutal, tão horripilante! Tem horas que eu penso: “Meu Deus, por quê?” E o que acontece que a gente não consegue quebrar essa estrutura tão cruel, tão perversa? Ao mesmo tempo, também fico muito feliz porque nós criamos a Delegacia das Mulheres – foi uma conquista grande, tudo era uma conquista. Mas era uma conquista com muito, muito trabalho entendeu? Nada foi dado, tudo foi conquistado por nós. Que ninguém tente desmentir isso porque eu respondo à altura. Por exemplo, nós fomos introduzindo as cadeiras na pós-graduação sobre a questão feminina – nós fizemos o primeiro curso sobre mulher, fui eu e o Marcos Coimbra, ele era da Ciência Política e eu da Sociologia. O curso era lotado de homens e mulheres.
Mas tinha um time que era mais dedicado aos atendimentos do que eu, entendeu? Dedicavam-se mais ao SOS, que eram a Conceição Rubinger, a Ana Lúcia, uma psicóloga, a advogada Elizabeth Almeida. Essas eram mais presentes. E eu fui me afastando e tal, aí de repente eu fiquei mais no mundo acadêmico, sabe?
NOTAS
- Joseph François Pierre Sanchis (1928-2018), professor emérito da UFMG.
- Claire S. Bacha é psicoterapeuta e professora na Manchester University (UK).
- Edmar Lisboa Bacha (1942-), economista, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Letras.
- Bila Sorj (1950 – ), reconhecida socióloga brasileira, professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da UFRJ. Foi atuante na criação e funcionamento em Minas do CDM (Centro de Defesa dos Direitos da Mulher), que chegou a presidir entre 1982 e 1983.
- Sheila Rowbotham (1943-), historiadora feminista foi professora da cadeira de Gênero, História do Trabalho e Sociologia na Manchester University (UK).
- Betty Naomi Goldstein (1921-2006), norte-americana, ou Betty Friedan, era psicóloga, jornalista e ativista, co-fundadora da Organização Nacional para as Mulheres (NOW) e uma das primeiras líderes do movimento pelos direitos das mulheres nas décadas de 1960 e 1970 nos EUA. Seu livro de 1963, The Feminine Mystique, é visto por estudiosas como um dos motivos que fez emergir a segunda onda do feminismo norte-americano no século 20.
- Helena Greco (1916-2011) fundou e dirigiu o Movimento Feminino pela Anistia em Minas Gerais. Em 1980 foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade a primeira vereadora eleita da capital mineira, nas eleições de 1982. Teve participação ativa em praticamente todos os movimentos e lutas que envolveram o binômio direitos humanos e cidadania.
- MFPA – Movimento Feminino Pela Anistia foi a primeira organização a defender abertamente a anistia no país. A criadora do movimento, Therezinha Zerbini (1928-2015), era casada com o general Euryales Zerbini (1908-1982), um dos quatro oficiais-generais que resistiram ao golpe de 1964. O militar foi deposto do comando da unidade do Exército em Caçapava (SP), preso, reformado e cassado. Therezinha havia sido presa em 1970, acusada de apoiar a realização do congresso clandestino da UNE em Ibiúna (SP), em 1968. Passou seis meses no Presídio Tiradentes, onde foi companheira de cela da futura presidenta Dilma Rousseff (1947-).
- Marisa Letícia Lula da Silva (1950-2017) foi a segunda esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, sindicalista e político, com quem teve quatro filhos.
- Luiz Inácio Lula da Silva, 35º Presidente do Brasil (2003-2011). Iniciou um terceiro mandado em janeiro de 2023, vinte anos após seu primeiro período à frente do Executivo brasileiro.
- Refere-se aos assassinatos de Eloísa Ballesteros e Maria Regina Souza Rocha, duas mulheres da elite econômica de Belo Horizonte que foram mortas por seus maridos em 1980.
- Mirian Chrystus de Mello e Silva (1953 -), jornalista e professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMG, doutora em Literatura, é uma das lideranças históricas do feminismo mineiro e coordena o Movimento QuemAmaNãoMata em Belo Horizonte.
- Duas mulheres que foram assassinadas pelos maridos em 1980, em Belo Horizonte. Eloísa Ballesteros foi morta a tiros pelo marido, Márcio Stancioli, enquanto dormia. Maria Regina Santos Souza Rocha também foi morta pelo marido, Eduardo Souza Rocha, que desferiu seis tiros contra ela.
- Ângela Maria Fernandes Diniz (1944-1976) socialite mineira que foi morta com três tiros no rosto por seu companheiro, Doca Street, um crime de grande repercussão.
- Josefina Souza Lima foi morta pelo marido Roberto Lobato em 1971.
- Maria da Conceição Marques Rubinger, antropóloga, foi Diretora Geral do Departamento de Administração de Pessoal da UFMG.
- Karin Ellen von Smigay (1948-2011), professora aposentada do Departamento de Psicologia da UFMG. Teve intensa e importante atuação, em Minas, na criação e no funcionamento do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (CDM).
- Elizabeth Almeida (1953– )- Advogada de reconhecida atuação no feminismo mineiro, apelidada de Beth Almeida. Foi debatedora e autora de artigo no livreto impresso para o público que compareceu em 1975 ao DCE-UFMG (primeiro debate feminista em Minas no Século XX). Participou do primeiro grupo feminista criado durante a organização deste seminário de 1975 e também da criação do jornal independente DeFato. Entre 1980 e 1982, atua intensamente no primeiro período de funcionamento do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (CDM) criado em Belo Horizonte logo após o ato público de 1980.
- O CNDM (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) foi instituído pela Lei 7.353/1985 com a finalidade de formular e propor diretrizes de ação governamentais voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero.
- Rodrigo da Cunha Pereira (1956 – ) é advogado de Direito de Família e Sucessões, um dos criadores do Instituto Brasileiro do Direito de Família – o IBDFAM de 1997. No início da década de 80, momento da abertura dos serviços do SOS Mulher junto ao CDM-MG (Centro de Defesa dos Direitos da Mulher) Pereira era um jovem estudante de Direito que, sensibilizado com a causa, juntou-se ao serviço para atuar junto às mulheres em situação de violência.
- Maria Ruth dos Santos Escobar (1935-2017) foi atriz, produtora cultural e política.
- José Sarney de Araújo Costa (1930-) é advogado, político (Senador) e escritor. Foi o 31º Presidente do Brasil, tendo tomado posse em 1985, logo após a morte do presidente eleito, Tancredo de Almeida Neves (1910–1985).
- Paulo Brossard de Sousa Pinto (1924-2015) foi deputado federal, senador, ministro da justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal.
- Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (1930-2008) foi antropóloga, professora universitária da USP e 34ª primeira-dama do Brasil (1995-2002). Como esposa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, preferiu atuar dentro de sua especialidade a cumprir o que em geral se espera de mulheres nessa posição. Construiu um extenso mapeamento das iniciativas sociais existentes no terceiro setor do Brasil (incluindo sociedade civil organizada e ONGs). Com a criação de um conselho de benfeitores, instituiu o Programa Comunidade Solidária, repassando diretamente a organizações participantes de editais anuais, recursos para estimular estas práticas de ação social nas áreas mais vulneráveis do país.
- Marina Colasanti (1937-) é escritora, jornalista e artista plástica.
- Branca Moreira Alves (1943- ) é formada em História e Direito. Foi Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro e uma das responsáveis pela implementação do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher para o Brasil e o Cone Sul.
- Jacqueline Pitanguy (1946- ) socióloga e cientista política. Foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher de 1986 a 1989. Fundou, junto com Leila Barsted, uma ONG de apoio às mulheres, chamada CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação). Fundada em 1990, desenvolve estudos e pesquisas, bem como projetos de educação e intervenção social com a preocupação de difundir seus resultados, compartilhando-os com diversos setores da sociedade.
- Maria Luísa Heilbourn (1954- ), pesquisadora da Fiocruz, tem pós-doutorado pelo Institut National d’Études Démographiques (INED; França). Professora Associada do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Sua atuação privilegia estudos sobre gênero, sexualidade, família e juventude.
- Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida (1930-2006), foi um religioso jesuíta, Arcebispo de Mariana, referência no grupo de religiosos católicos da Teologia da Libertação, criador da Pastoral da Terra.
- Fernando Henrique Cardoso (1931-), professor universitário, sociólogo e escritor. Foi o 34º Presidente da República Federativa do Brasil (1995-2002).
- Célio de Castro (1932-2008), médico e político, foi deputado constituinte, deputado federal e prefeito de Belo Horizonte.
- João Pimenta da Veiga Filho (1947-), advogado e político, foi deputado constituinte, deputado federal, ministro de estado e prefeito de Belo Horizonte.
MIRIAN CHRYSTUS
NELY ROSA
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA
ELIZABETH ALMEIDA
ALOÍSIO MORAIS
PEDRO PAULA CAVA
ELIZABETH FLEURY
CONCEIÇÃO RUBINGER
BERNARDO DA MATA MACHADO
REALIZAÇÃO
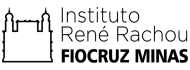
PARCERIA

APOIO FINANCEIRO
Emenda Parlamentar, mandato da deputada federal Áurea Carolina (PSOL)
APOIO INSTITUCIONAL
Fundação Oswaldo Cruz
