RODRIGO DA CUNHA PEREIRA
A lei como expressão de mudanças
Ainda na infância o advogado Rodrigo da Cunha Pereira observava criticamente o espaço concedido pelas famílias de sua região (Abaeté, Oeste de Minas) às mulheres e se ressentia pelas injustiças que cedo percebeu. Estudante universitário na UFMG, no início dos anos 80, logo se vinculou à luta das mulheres mineiras, auxiliando no atendimento do SOS Mulher – projeto importante do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Não por acaso, essa experiência impactou profundamente sua carreira, levando o jovem advogado ao Direito de Família e à criação de entidade nesse campo, publicando livros na área. Agora, foi com entusiasmo e alegria que Rodrigo nos contou detalhes dessa experiência, mostrando uma rara sensibilidade masculina aos dramas femininos e preocupação com os obstáculos que ainda se interpõem entre as mulheres a seu direito à felicidade. Ele fez aqui valiosas análises de costumes tendo o Direito como referência em suas reflexões.
Elizabeth Fleury (EF): Rodrigo, você tinha que idade quando estava fazendo o curso de Direito?
Rodrigo Pereira (RP): Na UFMG, tinha 21, terminei com 24 anos. A Escola de Direito (UFMG) é ali no Centro, perto de onde era a sede do CDDM, depois CDM (1). O Centro de Defesa dos Direitos da Mulher tinha uma sala alugada ali rua Goitacazes. Umas pessoas que eu conhecia era a Karin Ellen von Smigay (2) e também Celina Albano (3) – esta me chamou pra ir a uma reunião. Quando eu cheguei lá, foi até um pouco constrangedor, porque aquele tanto de mulher sentada no chão e só eu de homem. Eu cheguei nesse grupo de mulheres me sentido um pouco constrangido, mas depois fiquei à vontade, porque logo me identifiquei com elas.
Achei importante que tivesse um homem, porque essa questão da igualdade entre homens e mulheres ela está em mim desde que eu era crianças. Eu observava os costumes – fui criado numa cidade do interior, em Abaeté, no sertão de Minas, uma sociedade patriarcal onde esses valores eram bem rígidos. A primeira coisa que contestava era: as mulheres não podem ter relação sexual antes do casamento e os homens podem. Porque homens podem e mulheres não?
Nós fazíamos atendimentos [jurídicos] gratuitos. Tinha essa questão da violência e na época não tinha Lei Maria da Penha (4). (…) E era aquela história de “em briga de marido e mulher não se mete a colher” – esse jargão que sustentou a violência.
(EF): Que tipo de mulheres aparecia por lá?
(RP): Eram mulheres de todo tipo, toda forma – em busca de separação, de pensão alimentícia. Mas teve um caso que se destacou, que me chamou muita atenção, me deu vontade de inventar uma tese – porque nós, advogados, buscamos em outras fontes do Direito quando não tem uma lei para satisfazer aquilo que é justo. Eu me lembro exatamente quando – eu me formei em julho de 1983, isso foi em 1984. Uma mulher chegou lá no CDM: “Olha, eu acho [que vivo] uma situação bastante injusta. Eu sou mãe solteira, tive um filho com um homem com quem não me casei, na cidade de Conselheiro Lafaiete. E não posso entrar no clube social do qual eu sou sócia. Eu fui impedida porque eu sou uma mãe solteira, como se isso fosse um crime, um pecado.” Quer dizer, esse conteúdo moral. E o homem entrava – o pai solteiro entrava! Entrei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais na 2ª Instância e lá se autorizou que ela pudesse frequentar o próprio clube. Bom, isso foi uma primeira vitória judicial. Vi que era possível, pela via do Direito, seguir nessa luta pela igualdade.
E essa cultura de “em briga de marido e mulher não se mete a colher” era muito forte, uma coisa aparentemente boba. Foi ali que eu comecei a entender que quanto mais você publiciza a violência, mais ela vai se politizando e vai tornando possível combatê-la.
Naquela época, começo do CDM, foi na fase daqueles assassinatos das mulheres ricas – porque as mulheres pobres eram e continuam sendo assassinadas. Mas aquilo provocou uma mobilização que foi muito importante. Isso repercutiu e fez com que aquelas mulheres se juntassem. Também acho importante que tenha homens nesse movimento de mulheres. Tinha o SOS-Mulher (5), atendíamos por telefone, porque algumas mulheres não podiam se identificar. Mas atendíamos muito presencialmente. (…)
No interior, quanto mais interior, mais rígidos são esses costumes, mais fortes são esses valores patriarcais. Na capital isso vai se diluindo um pouco. Uma coisa que chama muita atenção no Direito, que perdurou por muito tempo ainda, era que quando as mulheres se casavam e queriam se separar elas tinham que ter um motivo.
Se a mulher traiu o marido, teve uma relação extraconjugal, ela era considerada culpada e perdia os direitos: direito à guarda dos filhos, direito à pensão alimentícia. Eu me lembro de ter ficado muito chocado uma vez com um caso que eu atendi. Uma mulher era casada há trinta anos e o casamento estava ruim. Ela foi para o motel e lá ela conheceu uma pessoa. Acontece que o marido colocou um detetive e descobriu que ela tinha outra pessoa. Ele pediu a separação, ela foi considerada culpada e perdeu o direito à guarda dos filhos e à pensão alimentícia – ou seja, foi quase condenada a morrer de fome porque ela não tinha trabalho. O trabalho dela era esse invisível trabalho doméstico que historicamente as mulheres fizeram – isso me chamou muito atenção.
(EF): E como foi que isso começou a se modificar?
(RP): Mas logo depois, na década de 90, com a entrada de psicólogos e psicanalistas na discussão judicial (nos processos judiciais), começou-se a separar conjugalidade e parentalidade. Ou seja, a mulher podia ter traído e não ser uma boa mulher naquele sentido patriarcal, naquele sentido moral, mas podia ser uma ótima mãe. São coisas diferentes. (…) Foi quando então a gente começou a combater a eliminação da culpa e aí, influenciado pela psicanálise, muito tempo depois, a gente conseguiu substituir, aos poucos, o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Porque culpa é paralisante do sujeito. (…)
E essa relação de dominação até hoje, por exemplo, o judiciário naturalmente favorece a parte economicamente mais forte em razão da demora dos processos. E, historicamente, a parte economicamente mais forte são os homens. As mulheres continuam levando uma grande desvantagem. É muito bom olhar pra trás e ver como era e ver como caminhou.
Primeiro avanço foi que nós conseguimos, dentro do judiciário, eliminar essa questão da culpa. Depois, eu fui me enveredando cada vez mais pro Direito de Família, estudando a Psicanálise (…) aí, com um grupo de juristas, fundamos o Instituto Brasileiro do Direito de Família que é como se fosse uma continuação dessa luta, uma coisa mais específica dentro do Direito – o IBDFAM (6) nós fundamos em 1997. Com isto nós conseguimos vários avanços legislativos: por exemplo, em 2010, nós conseguimos mudar a Constituição do Brasil para simplificar o sistema de divórcio, pois sempre quem levava a desvantagem eram as mulheres. Antes era preciso ficar discutindo quem era culpado e isso levava anos! Enquanto isso, não se poderia fazer a partilha de bens – o homem sempre dominando o patrimônio e a mulher ficando prejudicada. Fizemos também alguns avanços, algumas teses que eu mesmo inventei e os demais abraçaram, que é a chamada pensão compensatória.
Em razão do discurso da igualdade (porque a igualdade está posta na lei, está na constituição), nos tribunais hoje a tendência é dar cada vez menos pensão para as mulheres. Ocorre que há mulheres que ainda precisam receber pensão alimentícia. Tem algumas mulheres casadas há 30, 40 anos que, quando se separam, têm uma queda brusca no padrão de vida. Não é uma pensão alimentícia que vai resolver – por esta razão criamos a chamada pensão compensatória: que é uma compensação econômica, até que haja a partilha dos bens, sempre demorada. Então isso é uma luta que continua, mas tudo começa lá atrás.
(EF): E como você interpreta o significado de tudo isso?
(RP): O Direito é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas na esfera social. Foi assim com as mulheres, que até 1934 não podiam votar. Também até 1988 os filhos fora do casamento, os ilegítimos, não podiam ser registrados. Isso é uma moral hipócrita que sempre me incomodou. Atualmente as famílias simultâneas são uma grande questão do Direito – passados 40 anos a luta continua, porque o Direito chama de concubinato, esse nome feio, pejorativo. Mudou pra união estável – você não precisa se casar, você pode ter uma família conjugal sem o selo do casamento. Isso foi uma evolução, o casamento não é a única forma de constituir família. Mas tem gente que gosta, ou por uma circunstância, constitui uma segunda família simultaneamente, que a lei chama ainda de concubinato. No final de 2020, o STF julgou um processo em que uma mulher que viveu durante 30 anos com um homem – ele era casado e morreu. Ela não pode receber a pensão dele porque o STF disse que aquilo era ilegal, impuro. Ou seja, tudo isso em nome da moral e dos bons costumes, coisa que sempre permeou o Direito – uma visão muito perigosa. Aliás, eu morro de medo dos guardiões da moral dos bons costumes porque eles têm sempre algo a esconder!
(…)
E o direito tem esse conteúdo moral e religioso, essa moral religiosa, ela determina todo o Direito. Mas, ao mesmo tempo, na minha profissão como advogado e como presidente do IBDFAM, isso é uma luta política. A revolução continua se fazendo e continua pelo pensamento. Então estamos construindo um novo pensamento jurídico, inclusive de igualdade em todos os sentidos, porque a ideia de justiça social interessa ao Direito, é uma questão de justiça. Mas isso começa lá atrás. Isso foi lá no CDM, Centro de Defesa dos Direitos da Mulher que eu fiquei assim.
NOTAS
- Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (CDM) – Em sua segunda fase, entre 1982 e 1984, funcionou na rua São Paulo, em Belo Horizonte, com apoio financeiro da Fundação Ford. Antes disso, ficou abrigado em uma sala cedida pela direção da Faculdade de Direito da UFMG, por solicitação das advogadas Fernanda Collás Arantes e Elizabeth Mariano de Almeida (ambas deste movimento).
- Karin Ellen von Smigay (1948-2011), professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFMG, falecida em 2011. Teve intensa e importante atuação em Minas, na criação e no funcionamento do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (CDM). Em artigo em sua homenagem, estudiosos dizem que Smigay merece ser lembrada porque “(…) como feminista Karin Smigay articulou o ativismo com a ciência (…), ela propunha a compreensão política das relações cotidianas e afetivas, mesmo que violentas, tendo por base a interface sujeito-sociedade e a leitura crítica das verdades instituídas” (PRADO et al, 2011, p, 203).
- Maria Celina Pinto Albano (1944-) Graduou-se em Sociologia e Política (UFMG, 1967); tem pós-graduação em Ciência Política c/ orientação do Prof. Fábio Wanderley Reis (UFMG, 1970); e Doutorado em Sociologia pela University of Manchester, Inglaterra (1980). Em 1970 ingressa como professora na UFMG, de onde se aposentou em 1995. Foi uma das criadoras e a primeira presidente do CDM (Centro de Defesa dos Direitos da Mulher) em Minas, organização que resultou do ato público de 1980 em Belo Horizonte, quando é criado o slogan QuemAmaNãoMata. Foi integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em plena Constituinte de 1988, integrando o Lobby do Baton. Foi secretária de estado da cultura no governo Hélio Garcia e chefiou a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte no governo Célio de Castro. Nomeada em 2013, coordenou os trabalhos da Comissão da Verdade em Minas.
- Lei Maria da Penha – Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher e dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. (Brasil, 2006).
- SOS–Mulher – Funcionava inicialmente (entre 1980 e 1982) em sala cedida pela Faculdade de Direito da UFMG. Primeira realização concreta do CDM (Centro de Defesa dos Direitos da Mulher), foi criado por iniciativa de um grupo de feministas mineiras, uma semana após o ato de repúdio de 18.08 de 1980, realizado nas escadarias da Igreja São José contra crimes de feminicídio ocorridos em Belo Horizonte naquele perío Durante a organização desse ato surge o slogan “Quem Ama Não Mata”.
- IBDFAM – Instituto Brasileiro do Direito de Família foi criado, em 1997, por Rodrigo da Cunha Pereira e diversos integrantes do grupo com o objetivo de potencializar e dar visibilidade aos temas dessa área, bem como levar adiante lutas por novas leis que atendam às demandas da sociedade brasileira em busca de mais democracia e direitos nesse campo.
MIRIAN CHRYSTUS
NELY ROSA
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA
ELIZABETH ALMEIDA
ALOÍSIO MORAIS
PEDRO PAULA CAVA
ELIZABETH FLEURY
CONCEIÇÃO RUBINGER
BERNARDO DA MATA MACHADO
REALIZAÇÃO
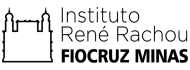
PARCERIA

APOIO FINANCEIRO
Emenda Parlamentar, mandato da deputada federal Áurea Carolina (PSOL)
APOIO INSTITUCIONAL
Fundação Oswaldo Cruz


